Por que escrevo
(José Saramago)
Há cerca de vinte anos – eu já tinha quarenta anos e estava imerso numa crise que não ousaria chamar de existencial por medo de uma palavra tão grave – escrevi um poema em que se liam estes versos: “aquele que permanece calado como eu me calei / ele não poderá morrer sem ter dito tudo.” A ameaça era clara e passei aos fatos; Desde então, publiquei dezessete livros. A resposta que gostaria de dar ao motivo pelo qual escrevo é muito simples: porque permaneci mudo durante muito tempo. Nada mais. Quanto à esperança de poder dizer tudo, fui perdendo-a aos poucos a cada livro, e finalmente entendi que esta ambição, além de humanamente impossível, é também socialmente indesejável. Limito-me a dizer o que posso.
Contudo, esta promessa, situada no limiar de uma obra que conta com alguns milhares de páginas, continua a assombrar-me. Gosto de pensar que escrevo para afastar a morte, para ampliar o espaço da vida, algo que obviamente não é original. Mas acrescentaria que este movimento se exerce no meu caso em duas direções opostas: em direção ao passado e em direção ao futuro. Vou tentar me explicar. Sabemos que os livros que se escreve pretendem perdurar no tempo, são candidatos a uma certa forma de imortalidade, qualquer que seja o seu significado. Sempre foi assim, quaisquer que sejam as lições de modéstia e humildade que o tempo nos dá. Queremos ampliar o espaço natural da vida através do artifício da obra. Queremos, como os demiurgos, povoar o mundo futuro com seres que nasceram do nosso mundo, com seres não de osso ou de carne, mas de papel, ou mais precisamente, já que o suporte já não é essencial, de palavras. Em suma, não queremos morrer. Mas este autor, aquele que escreve estas linhas, vai mais longe na sua presunção: quer entrar no passado, de certa forma, corrigi-lo, e ainda mais ambiciosamente, completá-lo. De um passado declarado morto, ele gostaria de fazer um passado vivo, a tal ponto que a relação do homem com o tempo, com todo o tempo, pudesse ser modificada, atingindo um grau de compreensão histórica global que unificasse passado, presente e futuro, como uma curva larga desenhada sobre um tecido, contínua, ininterrupta e toda ela oferecida ao olhar
Uma tarefa tão árdua provavelmente serviria mais a um filósofo do que a um romancista. Ora, como me falta tudo para ser filósofo, só posso ser romancista. Acrescento: romancista português neste Portugal do final do século, depois de cinquenta anos de regime repressivo e obscurantista. Diria que neste momento não tenho tempo para ser europeu. Os romances que escrevo, os que espero escrever, pertencerão a esta terra, a estas raízes. Gostaria de me voltar às camadas profundas do nosso ser coletivo, trazer à tona o que está oculto, expressar o que somos em segredo e, para chegar a essa dimensão, utilizar uma linguagem que faça do autor e do leitor um corpo indissociável. , o narrador e o narrado, ficção e história.
Sim, ficção e história, mas não o romance histórico. Quero dizer que chegou a hora de escrever a história de Portugal, de escrever a história dos portugueses, e que o romance pode ser o primeiro golpe do primeiro capítulo desta nova história. É uma banalidade dizer que fora da história não há nada. Talvez fora da ficção não haja muito.
Texto completo: Sobre Fernando Pessoa (José Saramago – O Caderno – Pág. 49)
Era um homem que sabia idiomas e fazia versos. Ganhou o pão e o vinho pondo palavras no lugar de palavras, fez versos como os versos se fazem, como se fosse a primeira vez. Começou por se chamar Fernando, pessoa como toda a gente. Um dia lembrou-se de anunciar o aparecimento iminente de um super-Camões, um camões muito maior que o antigo, mas, sendo uma pessoa conhecidamente discreta, que soía andar pelos Douradores de gabardina clara, gravata de lacinho e chapéu sem plumas, não disse que o super-Camões era ele próprio. Afinal, um super-Camões não vai além de ser um camões maior, e ele estava de reserva para ser Fernando Pessoa, fenómeno nunca visto antes em Portugal. Naturalmente, a sua vida era feita de dias, e dos dias sabemos nós que são iguais mas não se repetem, por isso não surpreende que em um desses, ao passar Fernando diante de um espelho, nele tivesse percebido, de relance, outra pessoa. Pensou que havia sido mais uma ilusão de óptica, das que sempre estão a acontecer sem que lhes prestemos atenção, ou que o último copo de aguardente lhe assentara mal no fígado e na cabeça, mas, à cautela, deu um passo atrás para confirmar se, como é voz corrente, os espelhos não se enganam quando mostram. Pelo menos este tinha-se enganado: havia um homem a olhar de dentro do espelho, e esse homem não era Fernando Pessoa. Era até um pouco mais baixo, tinha a cara a puxar para o moreno, toda ela rapada. Com um movimento inconsciente, Fernando levou a mão ao lábio superior, depois respirou fundo com infantil alívio, o bigode estava lá. Muita coisa se pode esperar de figuras que apareçam nos espelhos, menos que falem. E porque estes, Fernando e a imagem que não era a sua, não iriam ficar ali eternamente a olhar-se, Fernando Pessoa disse:
“Chamo-me Ricardo Reis”. O outro sorriu, assentiu com a cabeça e desapareceu. Durante um momento, o espelho ficou vazio, nu, mas logo a seguir outra imagem surgiu, a de um homem magro, pálido, com aspecto de quem não vai ter muita vida para viver. A Fernando pareceu-lhe que este deveria ter sido o primeiro, porém não fez qualquer comentário, só disse: “Chamo-me Alberto Caeiro”. O outro não sorriu, acenou apenas, frouxamente, concordando, e foi-se embora. Fernando Pessoa deixou-se ficar à espera, sempre tinha ouvido dizer que não há duas sem três. A terceira figura tardou uns segundos, era um homem daqueles que exibem saúde para dar e vender, com o ar inconfundível de engenheiro diplomado em Inglaterra. Fernando disse: “Chamo-me Álvaro de Campos”, mas desta vez não esperou que a imagem desaparecesse do espelho, afastou-se ele, provavelmente tinha-se cansado de ter sido tantos em tão pouco tempo. Nessa noite, madrugada alta, Fernando Pessoa acordou a pensar se o tal Álvaro de Campos teria ficado no espelho. Levantou-se, e o que estava lá era a sua própria cara. Disse então: “Chamo-me Bernardo Soares”, e voltou para a cama. Foi depois destes nomes e alguns mais que Fernando achou que era hora de ser também ele ridículo e escreveu as cartas de amor mais ridículas do mundo. Quando já ia muito adiantado nos trabalhos de tradução e poesia, morreu. Os amigos diziam-lhe que tinha um grande futuro na sua frente, mas ele não deve ter acreditado, tanto assim que decidiu morrer injustamente na flor da idade, aos 47 anos, imagine-se. Um momento antes de acabar pediu que lhe dessem os óculos: “Dá- me os óculos” foram as suas últimas e formais palavras. Até hoje nunca ninguém se interessou por saber para que os queria ele, assim se vêm ignorando ou desprezando as últimas vontades dos moribundos, mas parece bastante plausível que a sua intenção fosse olhar-se num espelho para saber quem finalmente lá estava. Não lhe deu tempo a parca. Aliás, nem espelho havia no quarto.
Este Fernando Pessoa nunca chegou ter verdadeiramente a certeza de quem era, mas por causa dessa dúvida é que nós vamos conseguindo saber um pouco mais quem somos.
Não me peçam razões, que não as tenho,
Ou darei quantas queiram: bem sabemos
Que razões são palavras, todas nascem
Da mansa hipocrisia que aprendemos.
Não me peçam razões por que se entenda
A força de maré que me enche o peito,
Este estar mal no mundo e nesta lei:
Não fiz a lei e o mundo não aceito.
Não me peçam razões, ou que as desculpe,
Deste modo de amar e destruir:
Quando a noite é de mais é que amanhece
A cor de primavera que há-de vir.
“Os Poemas Possíveis” (1973)
Ora, a solidão, ainda vai ter de aprender muito para saber o que isso é, Sempre vivi só, Também eu, mas a solidão não é viver só, a solidão é não sermos capazes de fazer companhia a alguém ou a alguma coisa que está dentro de nós, a solidão não é uma árvore no meio duma planície onde só ela esteja, é a distância entre a seiva profunda e a casca, entre a folha e a raiz, Você está a tresvariar, tudo quanto menciona está ligado entre si, aí não há nenhuma solidão, Deixemos a árvore, olhe para dentro de si e veja a solidão, Como disse o outro, solitário andar por entre a gente, Pior do que isso, solitário estar onde nem nós próprios estamos.
“O Ano da Morte de Ricardo Reis” (1984)
CARTA A JOSEFA, MINHA AVÓ
Tens noventa anos. És velha, dolorida. Dizes-me que foste a mais bela rapariga do teu tempo — e eu acredito. Não sabes ler. Tens as mãos grossas e deformadas, os pés encortiçados. Carregaste à cabeça toneladas de restolho e lenha, albufeiras de água. Viste nascer o sol todos os dias. De todo o pão que amassaste se faria um banquete universal. Criaste pessoas e gado, meteste os bácoros na tua própria cama quando o frio ameaçava gelá-los. Contaste-me histórias de aparições e lobisomens, velhas questões de família, um crime de morte. Trave da tua casa, lume da tua lareira — sete vezes engravidaste, sete vezes deste à luz.
Não sabes nada do mundo. Não entendes de política, nem de economia, nem de literatura, nem de filosofia, nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras práticas, um vocabulário elementar. Com isto viveste e vais vivendo. És sensível às catástrofes e também aos casos de rua, aos casamentos de princesas e ao roubo dos coelhos da vizinha. Tens grandes ódios por motivos de que já perdeste lembrança, grandes dedicações que assentam em coisa nenhuma. Vives. Para ti, a palavra Vietname é apenas um som bárbaro que não condiz com o teu círculo de légua e meia de raio. Da fome sabes alguma coisa: já viste uma bandeira negra içada na torre da igreja. (Contaste-mo tu, ou terei sonhado que o contavas?) Transportas contigo o teu pequeno casulo de interesses. E, no entanto, tens os olhos claros e és alegre. O teu riso é como um foguete de cores. Como tu, não vi rir ninguém.
Estou diante de ti, e não entendo. Sou da tua carne e do teu sangue, mas não entendo. Vieste a este mundo e não curaste de saber o que é o mundo. Chegas ao fim da vida, e o mundo ainda é, para ti, o que era quando nasceste: uma interrogação, um mistério inacessível, uma coisa que não faz parte da tua herança: quinhentas palavras, um quintal a que em cinco minutos se dá a volta, uma casa de telha-vã e chão de barro. Aperto a tua mão calosa, passo a minha mão pela tua face enrugada e pelos teus cabelos brancos, partidos pelo peso dos carregos — e continuo a não entender. Foste bela, dizes, e bem vejo que és inteligente. Por que foi então que te roubaram o mundo? Quem to roubou? Mas disto talvez entenda eu, e dir-te-ia como, o porquê e o quando se soubesse escolher das minhas inumeráveis palavras as que tu pudesses compreender. Já não vale a pena. O mundo continuará sem ti — e sem mim. Não teremos dito um ao outro o que mais importava.
Não teremos, realmente? Eu não te terei dado, porque as minhas palavras não são as tuas, o mundo que te era devido. Fico com esta culpa de que me não acusas – e isso ainda é pior. Mas porquê, avó, por que te sentas tu na soleira da tua porta, aberta para a noite estrelada e imensa, para o céu de que nada sabes e por onde nunca viajarás, para o silêncio dos campos e das árvores assombradas, e dizes, com a tranquila serenidade dos teus noventa anos e o fogo da tua adolescência nunca perdida: «O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer!»
É isto que eu não entendo — mas a culpa não é tua.


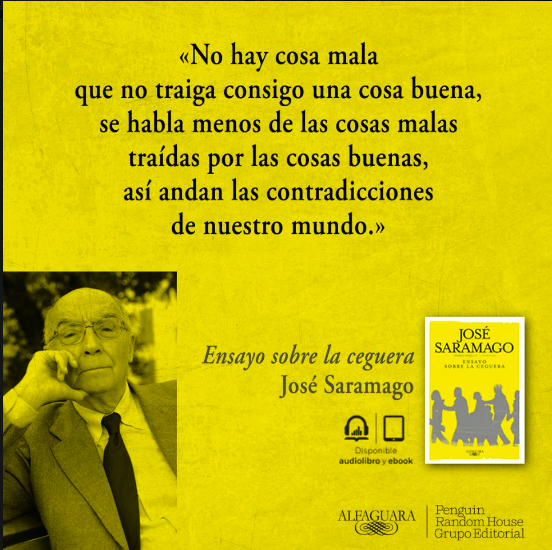

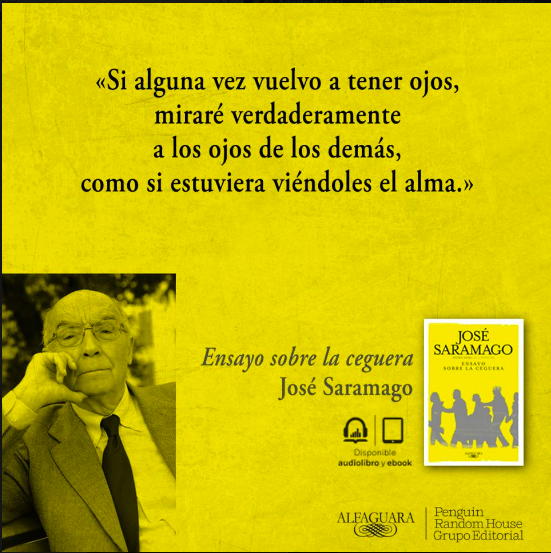
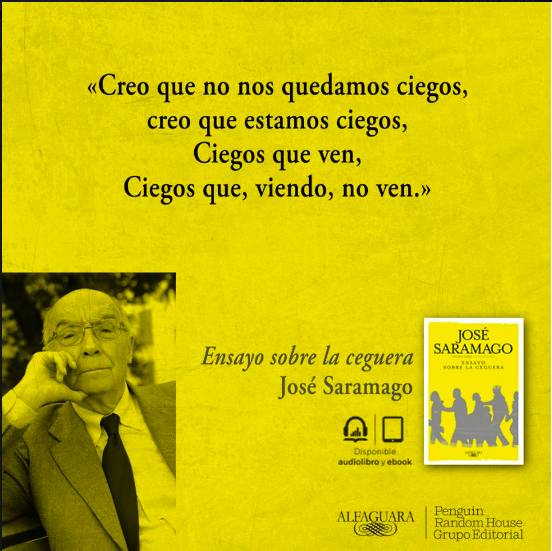
A Cidade
Era uma vez um homem que vivia fora dos muros da cidade. Se cometera algum crime, se pagava culpas de antepassados, ou se apenas se retirara por indiferença ou vergonha- não se sabe. Talvez um pouco de tudo isto, tão certo é que do belo e do feio, da verdade e da mentira, do que se confessa e do que se esconde, fazemos todos nós a nossa casual existência.
Vivia o homem fora dos muros da cidade, e dessa segregação deliberada ou imposta acabou por fazer um pequeno título de glória. Mas não podia evitar (isso não podia) que nos olhos lhe pairasse a névoa melancólica que envolve todo o desterrado. Algumas vezes tentou entrar. Fê-lo não por desejo irreprimível, nem sequer por cansaço da situação, mas por mero instinto de mudança ou desconforto inconsciente. Escolheu sempre portas erradas, se portas havia. E se aconteceu julgar que entrara na cidade, talvez sim, mas era como se a par da cidade real houvesse imagens dela, inconscientes como a sombra que nos olhos se tornava mais e prende ao toque luminoso do sol, era o deserto que o rodeava, e ao longe brancos e altos, com arvores plantadas nas torres e jardins suspensos das varandas, os muros da cidade brilhavam outra vez inacessíveis.
De dentro vinham rumores de festa. Assim lho dizia, mais do que os sentidos, a imaginação. Rumores de vida seriam, pelo menos. Não a morte solitária que é a contemplação obstinada da própria sombra. Não o desespero surdo da palavra definitiva que se escapa no momento em que seria, melhor do que apalavra, uma chave. E então o homem rodeava as longas muralhas, tacteando, à procura da porta que obscuramente lhe estava prometida. Porque o homem acreditava na predestinação. Estar fora da cidade (se disso tinha real consciência) era para ele uma situação acidental e provisória. Um dia, no dia exacto, nem antes, nem depois, entraria na cidade. Melhor dizendo: entraria em qualquer parte, que a isto se resumia o seu esperar. Que a névoa da melancolia se tornasse noite, seria um mal necessário, mas também provisório porque o dia predestinado traria uma explicação. Ou nem isso, sequer. Um fim, um simples fim. Uma abdicação já serviria. O homem não sabia que as cidades que se rodeiam de altos muros (ainda que brancos e com árvores) não se tomam sem luta. Não sabia o homem que antes da batalha pela conquista da cidade outro combate teria de travar e vencer. E que nessa primeira luta teria de lutar consigo mesmo. Ninguém sabe nada de si antes da acção em que tiver de empenhar-se todo. Não conhecemos a força do mar enquanto ele não se move. Não conhecemos o amor antes do amor. Veio a batalha. Como nos poemas de Homero, também os deuses entraram nela. Combateram a favor e contra, algumas vezes uns contra os outros. O homem que lutava para viver dentro dos muros da cidade cruzou espada e palavras com os deuses que estavam ao seu lado. Feriu e foi ferido. E a luta durou longos e longos dias, semanas, meses, sem tréguas nem repouso, ora junto às muralhas, ora tão longe delas que nem a cidade se via, nem se sabia bem já que prémio estaria no fim do combate. Foi outra forma de desespero. Até que um dia o terreno da luta ficou livre e desimpedido, como um estuário onde as águas descansam. Sangrando, o homem e o deus que lhe ficara olharam de frente as portas, abertas de par empar. Havia um grande silêncio na cidade. Ainda amedrontado, o homem avançou. O seu lado, o deus. Entraram – e foi só depois que entraram que a cidade se tornou habitada. Era uma vez um homem que vivia fora dos muros da cidade. E a cidade era ele próprio. Cidade de José se lhe quiser dar um nome. Saramago, José, Deste Mundo e do Outro – Crónicas, Ed. Caminho, 1999