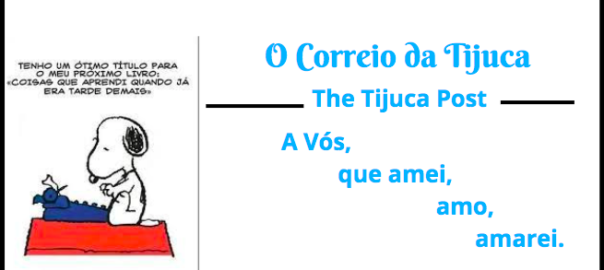MEU OBITUÁRIO LITERÁRIO PARA MEU PROFESSOR E AMIGO JULIO CORTÁZAR(Escrevi em Paris, logo após o funeral de Júlio Cortázar, em 29 de fevereiro de 1984).
Da porta entreaberta vi você dormindo. Tudo escureceu. Afundando no travesseiro. Você estava mais com barba do que com rosto, dormindo o tempo que estava. Então me lembrei do que Lezama me disse uma vez: “Julio sofre de uma doença invejável chamada “efebicia” que o mantém jovem à custa de seus ossos crescerem excessivamente”.
Quando eu te contei, você sorriu com aqueles dentes abertos que lhe davam o ar de uma criança maliciosa. “Esse é mais um dos mitos do gordo cósmico”, disseste, já não me lembro se na Bodeguita del Medio ou viajando ao centro da terra nas minas de ouro de Siuna, ou em algum café do Quartier Latin . Pensando na anorexia de Gide – me disseram que você não tinha apetite, que não queria experimentar nada que tivesse sabor – saí do hospital Saint-Lazare. Desci pelo faubourg até chegar a um arco e terminei numa rua estreita como uma faca. Rua dos batedores de carteira e dos clandestinos, em cujas esquinas há mulheres com correntes nos tornozelos mostrando as coxas com ligas vermelhas ou pretas, que são as cores da moda neste inverno. Tristes cariátides à venda, naquela Paris que sua amarelinha me ensinou a adivinhar. A bofetada do pianista. As escadas que cheiram a cebola. Os guarda-chuvas pretos. As pontes sobre o Sena. A fumaça azul dos Gauloises.
Paris estava ali, vibrando, mesmo que você dormisse no hospital, ou melhor, por isso, porque para sempre aquela cidade será o cenário mais completo do seu melhor sonho. Queijo Gruyère, existe uma Paris subterrânea, aquela que você mais amou. Labirinto delirante de metros, amarelinha vertiginosa. Um passa por um buraco e sai por outro. Foi assim que me perdi na tarde em que ouvi a notícia da sua morte e fui até o seu apartamento na rua Martel, onde você estava deitado. Um caixão no meio do seu quarto. Muitos amigos sentados na sala. Eu não sabia que em Paris faziam vigília pelos mortos em suas casas.
Entrando, à direita e à esquerda, nas suas estantes subindo pelas paredes. O I’ Ching e alguns livros sobre boxe. E uma estante dedicada a Cuba onde, entre outros, Paradiso de Lezama Lima, Calibán de Retamar, As Mil Vidas do Caminhante, de Luis Rogelio Nogueras, De Peña Pobre, de Cintio Vitier… Na sala fica a discoteca (lá há em sua casa mais discos do que livros) e ao lado de sua poltrona de couro, um exemplar fechado da última edição de Marelle.
Seus últimos momentos pareciam retirados de uma daquelas suas histórias em que você sempre reconhecia o traço necrófilo de Poe. Então a cidade dos seus sonhos começou a fluir em direção ao cemitério de Montparnasse naquela que foi a manhã mais fria desta estação. O primeiro a aparecer foi Oliveira, seguido por Charlie Parker, que chega arrastando um saxofone. O Senhor dos Anéis saiu debaixo de um salgueiro-chorão. Sheridan Le Fanú pousou em seu dragão voador. Melmoth, o Andarilho, desenrolou-se da flecha da Sainte-Chapelle carregando o bebê Rocamadour nos ombros.
Entretanto, nas margens do Quai des Grands Augustins, quase por baixo da Ponte Nova (embora seja a mais antiga), o Nautilus emergiu pingando água, e o Capitão Nemo saltou em terra para assistir ao seu funeral. Arthur Gordon Pym e Robison Crusoe também deixaram o submarino com sua sexta-feira, seu papagaio e seu arcabuz. Correram, em busca do sul, pelas suas ruas preferidas (a rue de l’Hirondelle e Git-le-coeur) sem ouvir as versões malucas dos “bouquinistes” que – de tantos livros antigos que leram – acreditavam que a Ile de la Cité se transformou no navio Bêbado, enquanto a Square du Vert-Galant parecia uma proa coberta de algas e Notre-Dame, uma popa cujos arcobotantes eram remos fenícios.
Outra coisa emerge do Sena para espanto dos turistas: é Alexandre Dumas escrevendo numa banheira em torno da qual os três mosqueteiros cruzam as espadas com Nemo, Pym, Crusoé e Sexta-feira, porque querem chegar primeiro ao encontro contigo. Atrás vem uma mulher lentamente, uma mulher que não faz sombra, e seu nome é Nadja.
Todos estão indo em direção a Montparnasse. E são tantos “todos” que o trânsito fica engarrafado e a cidade se transforma num rugido de buzinas e assobios. Dois carros colidem, Monzón sai de um e Boutier – ambos de bermuda e luvas – troca golpes do outro. Um locutor de rádio reclama que o mestiço estraga o lindo rosto do francês. Todos os telefones começam a tocar. Os cães latem. Os gatos miam. Os pombos para arrulhar. As gaivotas a gritar.
Os cronópios sempre dormem de manhã, grudados nos lençóis. É por isso que só com tamanho escândalo começaram a se esticar, olhando pelas claraboias, subindo nos tetos abobadados, contemplando o espetáculo fascinante de dez mil carros imobilizados, e tanta gente desesperada entra no metrô que eles também acabam por ficar preso e toda Paris fica paralisada. Até a fumaça das chaminés cristaliza no ar; Os cronópios mais espertos – entre os quais estão os clochards – perceberam rapidamente que algo está acontecendo no sul, em direção a Montparnasse. Seus dois boxeadores favoritos pararam de lutar e agora estão correndo em sua direção. Tudo flui em sua direção, toda a cidade inverteu seu desenho radiante e agora todas as ruas levam a Montparnasse. Até as rajadas de vento vão nessa direção, arrastando consigo as gaivotas do Sena e os pombos da Place de la Concorde. Alguns cronópios, preguiçosos ou engenhosos – o que é quase a mesma coisa – em vez de descer dos telhados preferem colocar tábuas de janela em janela, e assim vão de um edifício a outro, até chegarem a Montparnasse.
Ainda há um metro em funcionamento: linha 6, sentido Nação. Funciona porque passa pela Montparnasse Bienvenue. Cemí, Foción e Fronesis – quais dos três são os mais gordos – entram na estação Trocadero; mas estão tão interligados – em Blanco e Trocadero – que em vez de irem diretamente se conectam em La Motte-Picquet, terminando em Odeon, na linha 10 em direção a Gare D’Orléans-Austerlitz. O mais sábio dos três, José Cemí, decide pegar a linha 4, em direção à Porte D’Orléans General-Leclerc (“Orléans de novo!”, protestam Foción e Fronesis. “Porte não é a mesma coisa que Gare”, esclarece o estudioso Cemí). Eles fazem isso e vêm à superfície pela foz do metrô Raspail. Os três chiados chegam ao mesmo tempo que Dumas em sua banheira pensativa, os dois boxeadores, os três mosqueteiros e os náufragos do Nautilus.
Nesse momento o inesperado acontece. Os sete malucos chegam, brigando, de faca na mão, por um brinquedo raivoso. Há um homem olhando para eles, de um canto rosado, com a bochecha decorada com uma cicatriz rancorosa. O brinquedo furioso está vivo, e salta entre os contendores, escapando por entre suas pernas, toda vez que os sete malucos olham boquiabertos para o céu de onde um balão desce e pousa rangendo e murchando sobre algumas bananas sem folhas. Phileas Fogg sai do barco carregando dois gatos, um que fala alemão e se chama Teodoro W. Adorno; e outro que fala grego e se chama Demóstenes. O brinquedo irado – que carece de contornos precisos – expande-se até se transfigurar num coroa gorda Todos olham para ele perplexos e exclamam algo como “Havia um rei” ou “Ubu Rey”.
Outra mulher, “sozinha”, vagueia pelo Boulevard Saint Germain. Ela deixa cair a bolsa, deixa cair a pele da raposa que o seu avô caçava na Lituânia no século XIX, deixa cair a caixa de fósforos, tudo cai; é um milagre ambulante. Se senta para beber um uísque no Deux-Magots. La Maga é tão mágica que ninguém ainda sabe explicar como, enquanto toma um uísque no Deux-Magots, ela pode estar ao mesmo tempo em Montparnasse, fazendo passeios absortos entre os túmulos.
Há outra mulher reclusa, que se apoia em um anjo de mármore querendo soluçar, será Glenda, a quem tanto amamos?
As criaturas do seu sonho sem fim continuam chegando, seus amigos mais íntimos, entre os quais autores e personagens se misturam nesta espécie de greve geral contra a morte. Alguém (ou alguém) que está por aí é o Dr. Jekyll e o senhor Hyde. Wells chega na máquina do tempo com uma flor na mão. Fantomás chega em uma máquina preta que parece um morcego. Raymond Roussell chega em outra maquinaria ainda mais improvável – porque é sutilmente inútil – com o desejo de contar suas impressões sobre a África.
Outros não precisavam vir de tão longe, porque já estavam lá esperando por você há anos: Maupassant – que não era santo de sua devoção – vai embora com sua Bola de Sebo e um coro de famas. Huysmans fica de cabeça para baixo, ou seja, de cabeça para baixo. Mas, sobretudo, Tzara está ali com seu rosto aproximado de homem e Baudelaire com seu albatroz. Ao lado deste último -concorrência de pássaros raros- está Poe com seu corvo, fazendo caretas epilépticas. De repente aparece César Vallejo, cuja lápide diz: “Nasci num dia em que Deus estava doente”. Um certo Lucas desliza para o final deste grupo. Cocteau chega atrasado, envolto em uma nuvem de fumaça indecifrável, com o casaco puído. Rubén Darío chega da Nicarágua vestido de marechal.
Entre aqueles que não tiveram que vir ver você – porque já estavam lá – aparece a frágil silhueta de Carol Dunlop – câmera na mão -, companheira de sua última aventura na autopista que leva a Marselha, que leva à vida, onde agora você está, Júlio, com todos os seus convidados, na grande festa da imaginação. Outros chegarão…
Por: adolfo.wyse@gmail.com